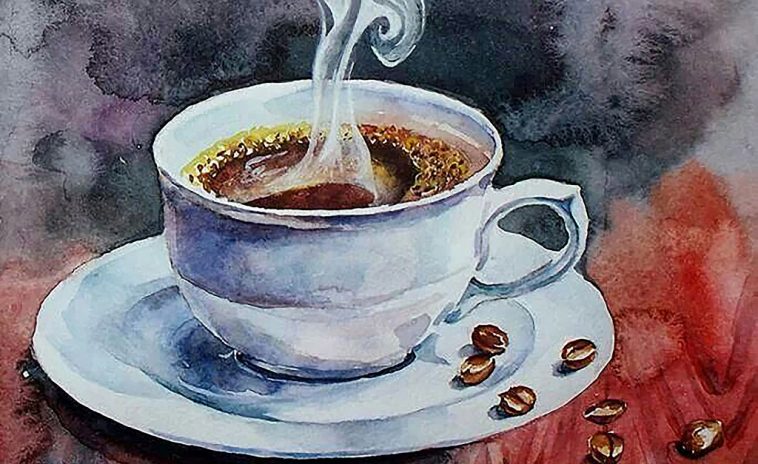Dez anos. Passados justos dez anos, como um viciado que de repente sofre uma recaída e se dobra ao antigo vício, ele decide voltar. Ao menos é o que parece. De cenho trancado, nu da cintura para cima, abre o caduco notebook (espécie de uísque doze anos com três copas do mundo na carcaça) e escreve cerca de cem palavras num fôlego só. Logo, porém, empaca. Falta-lhe possivelmente o que narrar, dizer, inventar. Considera que seria bom compor um artigo, quiçá uma crônica ou conto, e submeter para uma possível publicação no prestigioso blogue do Carlos Santos ou na revista do Túlio Ratto, ambos espaços de arte, cultura e opinião de largo alcance. Segundo estima, significaria um primeiro passo para sair do ostracismo e remover a ferrugem da criatividade.
— Vamos lá! — murmura sem sucesso.
Afinal, terá ele perdido o traquejo, o tirocínio? Onde estará o outrora fecundo e arrojado escriba, aplaudido em Vila Negra e alhures? Meneia a cabeça, reposiciona a bunda suada na cadeira giratória, ergue e desce os calcanhares. Embalde. A página fluorescente e quase toda em branco do computador o desafia, intimida. Respira fundo, os dedos imóveis sobre o teclado. Não se dispõe a escrever sobre os assuntos da hora ou da moda. Para o diabo a pandemia, o racismo, a política nazifascista do clã Bolsopata, o adeus ao gênio Maradona. Não chove no molhado, não segue a manada, os ritos e ditames sociais. Julga-se pateticamente superior à maioria do gado bípede brasileiro.
— Vamos lá, cérebro de uma figa!
Vaidoso, egoísta, instável, tem dificuldade em admitir que está ultrapassado enquanto literato, fora do páreo, esquecido e até evitado por muitos que em tempos outros o cercavam com lisonjas e massagens de ego. Muita coisa mudou ao longo desta última década. Ele, entretanto, estagnou. Melhor dizendo, regrediu. Com cinquenta carnavais, solteiro, sem filhos, paranoico, falhado na vida e na arte da escrita, sabe-se um homem com menos futuro que passado. Há dez anos não experimenta contato físico com uma mulher.
Tendo recorrido a quatro psiquiatras, vive à custa de auxílio-doença, engolindo um punhado de psicofármacos pela manhã e outro à noite. O Dr. João Batista, com quem se trata há cinco anos, emite os laudos que lhe vêm assegurando, perícia após perícia, o escasso dinheiro que o benefício previdenciário oferece. Recluso, sem vida social e com o antes numeroso rol de amigos diminuído em cerca de noventa por cento, debate-se com os pesadelos e fantasmas de um passado do qual não consegue escapar. Nunca mais, por essas e por outras, conseguiu retomar sua produção em prosa. De tempos em tempos, por recomendação médica e força do hábito, liga o computador e comete um poema em versos livres. Muito raramente fatura um soneto. Perdeu a tesão na literatura ao perder Fernanda daquele modo irremediável e peremptório.
— Vamos lá, filho da mãe! — insiste.
Consulta o relógio digital no canto inferior direito da tela: treze horas e vinte minutos. O domingo ferve, o pequeno ventilador sobre uma banqueta de plástico ao lado da cadeira é insuficiente para aplacar o mormaço. O colar de suor rebrilha em seu pescoço e se rompe e se reconstitui de instante em instante, escorrendo entre a penugem grisalha do peito. Sente-se vazio, estéril, falto de inspiração com que retome o texto. Os dedos, como soldados à espera de ordens, ainda imóveis. Ombros tensos, rosto afogueado, ele solta uma interjeição de derrota e abandona a velha escrivaninha. Vai ao balcão de metal onde está a cafeteira e toma as providências para a segunda jarra de café do dia, forte e amargo. A primeira fizera por volta das seis da manhã.
Enquanto a rubiácea é filtrada, resolve tomar um banho. Debaixo do chuveiro, ao começar a distribuir a espuma do sabonete pelas partes íntimas, súbito se vê com o membro intumescido. Pensa em Fernanda durante alguns segundos, fecha os olhos, pressiona o músculo invertebrado e pulsante, deixa-o deslizar entre os dedos, mas não consegue dar seguimento ao vício solitário. O modo como a sua relação com a ex-colega de trabalho findou o impede de obter êxito até neste seu vuduísmo libidinoso. A história deles não precisava ter acabado como acabou. Passaram-se dez anos, o remorso o persegue, entretanto Fernanda concorreu para que as coisas findassem daquela maneira. É o que ele pensa. Àquela época, totalmente alucinado por ela, implorou, rastejou, fez o que podia e o que não podia para dissuadi-la, mas a moça não lhe deu ouvidos, decidida a se casar com o astuto e abastado vereador Jarbas Correia.
Com pouco mais de um metro e oitenta e menos de noventa quilos, exibe um físico bem-conformado para seu meio século de idade. O cabelo, tirante a ruivo, é um misto de cobre e prata, farto e não raro despenteado, sem qualquer vestígio de calvície. A pouca barba está quase sempre por fazer, adornada por um bigodinho que não se comunica com o restante dos pelos. Seus olhos, grandes e piongos, de um castanho-claro cambiante, parecem maiores por trás das lentes de grau incrustadas na armação de acetato.
O jornalista e escritor Leodécio Mota (eis o nome do protagonista) sacode a cabeça sob o jato d’água, livra-se da espuma e do pensamento em Fernanda Gomes, que, dez anos atrás, desempenhava a função de assessora de imprensa no gabinete do vereador Jarbas Correia, então no primeiro mandato. Leodécio veste a mesma e surrada bermuda jeans. Não se enxuga. Não considera necessário. Não num começo de tarde quente como este. Daí a pouco a água toda há se secar ao sabor da brisa morna que começa a correr.
A cafeteira emite os últimos suspiros e vapores. O delicioso aroma ocupa a casa inteira, cuja modesta área construída é mais que suficiente para uma única vivalma. Entre outras fraquezas e manias, nutre a da cafeína, sem moderação. A residência, situada no distante Loteamento Asa Branca (o lote dele tem seiscentos metros quadrados), é constituída de uma saleta que se aparta da cozinha, igualmente reduzida, apenas por uma bancada de alvenaria com pedra negra de mármore. Possui tão só um quarto, banheiro social, um pequeno alpendre na frente e outro na área de serviço. Como já foi dito, o terreno é amplo, em especial na parte dos fundos, onde se encontra, afastado do muro, um frondoso abacateiro, plantado por Leodécio um dia após seu desatino.
Era um sábado, mês de maio, por volta das onze da noite, quando ele foi apanhá-la na calçada do prédio onde ela, filha única, dividia um minúsculo apartamento com a senhora Regina, a mãe, professora aposentada e viúva havia sete anos. Diante do espelho, passando batom, ela mentiu sobre o passeio: “Vou sair com a Mônica e a Paulinha, mamãe. Estão vindo me buscar. Vou descer. Não espere por mim. Chegarei tarde.” Naquele subúrbio e horário, com a rua deserta, Fernanda entrou no carro dele e rumaram para a casa de Leodécio. Nessa oportunidade, como ela o advertira por telefone um dia antes, transariam pela última vez. Seria, pensou ela, a sua despedida de solteira. Findo o sexo, contudo, partilhando com ele um cigarrinho de maconha:
— Concordei em vir aqui, mas isso não podia ter se repetido. Sempre fico péssima quando cedo a esses impulsos da carne.
— Ora, que bobagem! Você não tem que se casar com aquele indivíduo. Parece uma condenada a caminho da forca. Não deve nada a ele. Ainda há tempo de corrigir esse erro. Conversaremos com ele, juntos. Eu devia ter aberto o jogo ontem à tarde mesmo, quando, por acaso, avistei o sujeito no Café Sarajevo. Estava só, sentado a uma mesa no corredor do Edifício Colombo, de costas para mim. Fingi não tê-lo visto e passei de fininho. Pois é, vocês não têm nada a ver. O gorducho avarento só pensa em ganhar dinheiro, iludir o rebanho de eleitores e se locupletar de verbas públicas, mancomunado com o senhor prefeito Álvaro Peçanha. Qualquer dia essa bomba vai estourar. Escreva o que estou lhe dizendo. Portanto, você não pode se casar com um tipo como aquele. Não bastasse, Fernanda, o cara é dezoito anos mais velho que você.
— Já você é apenas cinco anos mais novo que ele. Nunca me atraí por rapazotes. Mas isso não interessa. Meu caso com você termina hoje. Vou me casar na quarta-feira. Não posso dar para trás agora. Você me entende?! Está tudo pronto, convites distribuídos, igreja, padrinhos, amigos, todo mundo ciente e à espera desse momento. Esta, repito, é a nossa última noite juntos. Daqui por diante, como todos imaginam, seremos apenas bons amigos.
— Não posso permitir que cometa essa loucura.
— Que loucura?! Estou noiva há um ano e meio. Vou me casar com outro homem, e você precisa aceitar isso. Eu já era noiva do Jarbas bem antes de nos conhecermos. Você sempre soube, nunca lhe dei a entender que pretendia terminar com ele. Minha relação com você ao longo desses oito meses, que vou guardar com carinho pelo resto da minha vida, foi intensa, arrebatadora, sim. Não nego que você mexeu bastante comigo, mas se trata de um sentimento que não vai além de uma atração à qual não pude resistir
Leodécio Mota e Fernanda Gomes eram auxiliares do gabinete de Jarbas Correia, na Câmara Municipal. Ela estava no cargo há mais tempo. Ele fora admitido alguns meses depois dela, ocasião em que se conheceram. As afinidades entre os dois logo vieram à tona (sobretudo o gosto por literatura, música, cinema, histórias em quadrinhos e cannabis sativa) e a amizade foi ficando cada vez mais estreita e comprometedora. Não tardou dois meses para que a paixão pela colega de ofício se tornasse irreprimível e desmedida.
Carismática, divertida, inteligente, a moreninha de corpo escultural, olhos miúdos e cabelos negros e longos o fisgara. Decorridos seis meses, levando em conta uma proposta financeira melhor, ele trocou o cargo no gabinete para trabalhar como editor de política na extinta Gazeta de Negócios. Nessa época os jornais impressos de Vila Negra, embora já um tanto ameaçados pelo advento da Internet, ainda coexistiam com os portais eletrônicos, sites e blogues. Então, considerando a vantagem financeira oferecida pela Gazeta, Leodécio deixou o emprego de meio expediente na Câmara de Vereadores.
Hoje, amargamente, ao vasculhar os próprios miolos em busca de um assunto para escrever, recorda fragmentos do diálogo que travou com Fernanda naquela noite, ambos seminus sobre a cama:
— Pelo amor de Deus! Você não pode levar esse contrassenso adiante. Pense bem, por favor! Nós somos unha e carne, casa e botão, almas gêmeas! Você não ama aquele cara. Tenho certeza que não.
— Amo, sim. Perdoe-me a franqueza, mas amo. Apesar de ter ficado com você até agora, eu amo o Jarbas. O que existiu com relação a você é diferente, é paixão. E paixão, Leodécio, é algo imprevisível e perigoso. Com o Jarbas, porém, eu me sinto segura, com os pés no chão.
Vendo-se derrotado, resignando-se perante a convicção da moça, estalou a língua e a fitou com melancolia e ternura:
— Bem, meu amor, já que se trata de uma despedida, e não tendo mais como mudar seu pensamento, ao menos vou buscar o vinho que comprei para tomarmos hoje. Tinto e suave, como você gosta.
Daí a pouco, com a cintura enrolada por um lençol, Leodécio voltou ao quarto trazendo duas taças de vinho. À meia-luz, janela aberta para o vento agradável da madrugada, fizeram um brinde sem entusiasmo, e cada qual foi bebericando sua porção. Menos de quinze minutos depois, a taça vazia sobre o criado-mudo, com voz pastosa, ela se queixou:
— Meu Deus, estou bêbada de sono…
Foram suas últimas palavras. Afundou a cabeça no travesseiro e apagou. As trinta miligramas de Dormonid (dois comprimidos bem triturados e diluídos no vinho) a nocautearam. Tudo havia sido friamente premeditado. Cerca de oito horas antes, utilizando-se de uma picareta e uma pá, abrira na terra fofa, no fundo do quintal, a cova com mais de um metro de profundidade. Deteve-se um instante olhando-a só de calcinha, seios à mostra, e pôs em prática o plano que gestara em sua mente doentia. Envolveu-a num lençol, tomou-a nos braços e a enterrou viva, junto com o aparelho celular dela, cujo chip foi retirado, partido e jogado na privada. Pela manhã, ao terminar de comer metade de um abacate, ele pegou o caroço e o plantou sobre o local da cova.
Agora, com vagar, saboreia uma caneca de café no umbral da porta da cozinha, pensando outra vez no que escrever.
— Vamos lá, cérebro preguiçoso!
Poderia contar, por exemplo, ainda que mudando o cenário, adulterando os fatos e dando nomes diversos aos personagens, o amor de perdição do escritor Leodécio Mota e o triste fim da jornalista Fernanda Gomes. Por que não?! A literatura está cheia de ficção fictícia. Mas esta é uma história sobre a qual ele não pretende escrever. Todos os dias, talvez por fetiche ou em memória de Fernanda, ele cultiva o hábito de urinar no tronco do abacateiro. Não duvidemos de que encontre nisso uma forma de ainda possuí-la.
Retorna à escrivaninha com a caneca de café:
— Vamos lá, cabeça de papel!
*Marcos Ferreira — Mossoró/RN
escritormarcosferreira@gmail.com